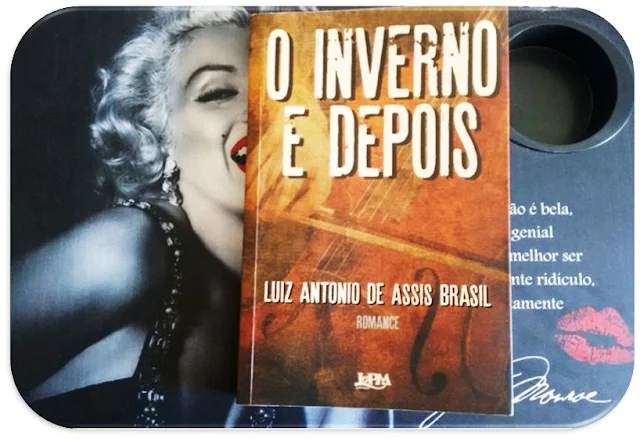(Depois do inverno, meu
querido... Não sei, dependendo de você, algo virá, e não apenas a primavera.
Constanza Zabala)
"O inverno
e depois", de Luiz Antonio de Assis Brasil, é um livro apaixonante. A obra também poderia
chamar-se Outrora, ou Al otro lado del
río... Ou simplesmente Constanza. É um romance refinado, instigante,
exigente, especialmente lindo, com um vocabulário rico e sofisticado, ao
mesmo tempo que palatável.
Apresenta o protagonista como
um homem tímido, introspectivo, mimado e observador, características
invariáveis de todo filho único. Julius, o personagem, é violoncelista, e leva
a vida dentro de uma partitura, fria e exata, que executa quase sem desafinar.
No primeiro movimento é regido pelo seu talento imberbe e a vontade de tia
Erna, que o cria após tornar-se órfão. Troca de regente, mas se mantém ainda em um primeiro movimento, quando vai desenvolver-se na escola clássica de Würzburg, na
Alemanha. Lá é assaltado pela sensação própria dos mortais, que não estilizam sentimentos nem os definem com
frases mentais. Ao invés das frases,
se queda na descrição frenética do óbvio: “Estou
apaixonado, é isso”.
Julius conseguiu sair do
primeiro movimento quando retornou ao Brasil, dolorido, deixando para trás uma
parte de sua vida “a mais rara, a única
que foi capaz de amar”. Passando para
o segundo movimento com a regência da esposa Silvia, um morno adagio, e dali só começou a sair
para o terceiro 25 anos depois, ao “chocar-se” com Antônia, a meia-irmã, causa
de dissabores familiares. Então descobre o afeto e a cumplicidade que só
existe entre irmãos, ainda que irmãos pela metade. A obra conspira no terceiro
movimento, que tem um momento decisivo, quando Julius despretensiosamente, mira
o espelho do camarim exclusivo, de visão poliédrica e, enfim, vê um homem.
O inverno e depois é um
romance em que vamos entrando devagar, quase que imperceptivelmente. Uma espera
cansativa no aeroporto; uma viagem ainda mais cansativa ao pampa desolado, às
lembranças que nunca morreram. Desconfio,
entretanto, que não se consegue sair tão cedo desse enredo. Ao término, vi um filme, o meu filme de
roteiro inacabado, com os personagens me olhando atônitos esperando as últimas
falas. Ao invés disso, eu apenas repito a Julius o recado do Elton John, e que
Constanza, seu único e definitivo amor, levou a pé da letra: and never forget I'm your man (e jamais
se esqueça de que sou seu homem).
Vivo de ser um latinista, em forma e conteúdo.
Portanto, da mesma maneira que passei um terço do livro aborrecido com Julius e
suas inseguranças, sempre batendo em retirada, me apaixonei perdidamente por
Constanza. Nela coloquei todos os rostos dos meus amores, os que tive e os que
imaginei ter, e todas as amarguras que se sucederam após as eventuais
separações, sempre temperadas por sons, cores e músicas de época.
Onde andará Constanza? Cheirando a água Farina Gegenüber, misturado com tabaco e cloro de
piscina? E súbito me dou conta que ela
está aqui, bem aqui ao meu lado, me olhando curiosa. Que não tem segredos ou mistérios,
porque deve estar no pacote das atenções de quem ama, perscrutar as entrelinhas
do outro. É assim que se faz, seu Julius!
De resto, jamais esperar trinta anos para viver
cada segundo sem hesitar, como ensina o Elton.
Sei, e não vou esquecer tão
cedo como são, em vida, todos os personagens de O inverno e depois. De Julius
a Peter Ustinov, passando por Boots, Antonia e Mickey Rooney. Os reconheceria
na rua, caso nos cruzássemos. Já Constanza... Ah, Constanza com seu jeito e cheiros... estará sempre comigo.
Dvorak compôs a obra,
obsessão de Julius, em três movimentos, como a vida que vi no protagonista.
Este, entretanto, porque custou a descobrir-se e pelas intercorrências que
viveu, contentava-se em executar somente o primeiro. Ao fim, entretanto, não poderia, depois de um
lapso tão longo de tempo, um amadurecimento repentino, culminando com uma
extraordinária sucessão de “coincidências” (que seria mais justo chamar de Sincronicidade, na linguagem de Jung), deixar de executar a obra completa,
que tinha “de cor e salteado”, à plateia do presente; do pretérito que poderia
ter sido mais-que-perfeito, e para um especial futuro do pretérito.
Depois de ouvir Dvorak, porque
se impunha que ouvisse, fui ouvir as Bachianas, do Villa Lobos. Quando Bidu
Saião terminou, fui àquele que, de certa forma, inspirou o romance. Ouvi Elton John e sua apostolar I Guess
That's Why They Call It The Blues (Acho que é por isso que eles chamam de
tristeza - ou algo assim), tema de vida de Julius. O texto instiga a ouvir clássicos concomitante e
compulsivamente.